Filha, herdeira e última sobrevivente da família, precisa assumir as rédeas da manutenção de sua realidade. Em “Aquela que repousa no centro do moinho”, Arthur Marchetto traça um paralelo entre o estabelecimento de uma família e a construção de uma cidade, em um texto rico em lirismo e polissemia. Confira a seguir!
Aquela que repousa no centro do moinho
Arthur Marchetto
Ali, no canto da cozinha, pelas frestas de uma ripa velha do assoalho, vi o Firmamento.
Foi sem querer, entre a boneca de milho e a galinha de madeira. Eu brincava pendurada na saia da Vó, imersa no cheiro de angu e aí... Eu vi. Como rodava aquele vazio... cinza... chiando... Ela me explicou, ao perceber o meu fascínio, que aquele era o alicerce de tudo: da nossa casa e das ruas; dos fluxos de pessoas; do horário em que o sol nasce e se põe; do cheiro do pão e do barulho do riacho; do voo das aves e do zunir dos besouros.
Mas agora ela está morta. Minha Vó, não a cidade. Eu acho...
Pelo canto do olho, vejo a quina da cozinha. O musgo cresce pelas frestas, junto com o pó cinza. Brotando. Criando forma. É preciso retomar os trabalhos, pôr o centro do mundo a girar. Mas, sozinha, é difícil colher o milho. Os Homens Urubus espreitam, com grasnadas lamuriosas. Não posso deixar que entrem.
***
Nem sempre estivemos sozinhas, sabe? Antes de tudo, eu nem existia. Foram a Vó e o Vô que prepararam tudo: o começo das coisas. Sozinhos, reviraram a terra e lançaram as sementes — recebidas de outra Vó, na Cerimônia das Andanças.
A partir dali, foi só milho e moinho por um tempo. A Vó cuidou da terra e das plantações; o Vô, do moinho e das estruturas. Sem isso, nenhum lugar brota. Enquanto ninguém chegava, usaram todo o espaço para plantar milho. Depois, foram minguando, abrindo espaço para aqueles que brotam de ventres menos profundos. E para nós. Por um tempo, fomos família.
Nunca deixamos de aproveitar todo o milho. Lembro das bonecas que fazia com palha seca e do cabelo das espigas. Eu surrupiava os fiapos quando escapulia da vigília do Vô. Sem esses fios, os milhos não amadureciam, e a espiga, verde, continuava fechada. Sem eles, minhas bonecas ficavam carecas. As coisas têm outro peso quando ainda se é broto.
Mas eu era inofensiva e os grãos, em sua maioria, completavam a travessia rumo ao moinho d’água. As sementes iam para a cesta de palha e, de lá, para o paiol. Vô construiu tudo elevado. A gente passava em uma pinguela de madeira, por cima de um riacho, e subia nos degraus improvisados em um barranco de terra para chegar na altura do moinho.
Às vezes, ficava deslumbrada olhando os grãos correndo pela calha de madeira, um por um, e caindo dentro do sulco; a água batendo na roda do moinho; o pedaço de pau girando e colocando as pedras para correr, moendo moendo moendo.
Era ali, naquela cavidade, centro do mundo, que a semente se transformava em fubá. Demorei a entender que aquela paisagem na ripa da cozinha e o moinho não estavam separados.
— É preciso tomar muito cuidado e sempre alimentar o moinho com milho — dizia a Vó. — Sem milho, a pedra mói a si mesma. Se isso acontecer, o pó da pedra se mistura ao pó do fubá e o trabalho se torna estéril. Revolvemos a terra e recomeçamos do zero. Sem descanso.
Foi só quando a Vó e o Vô deram conta dessa rotina que a casa se expandiu e nós chegamos. O primeiro foi o Tio. O milho era a base, sim, mas não dava conta de tudo. Era preciso dividir o peso das tarefas para que as plantas não envergassem. Por isso, o Tio chegou para cuidar dos porcos, galinhas, vacas e quem mais habitasse o curral e o chiqueiro que Vô construiu. Fazia tudo com gosto.
Várias vezes, congelei na porteira vendo o boi preto, marruá e corcunda, que habitava nosso quintal. Dava um medo danado. Preferia contornar a casa e pular muros do que botar meu caminho perto daquela fera. Mas com o Tio era diferente, um carinho...
Por isso, tão logo os de ventre raso deixaram de precisar dos animais e começaram a andar com as próprias pernas, meu Tio pegou os dele — sem deixar nenhum — e partiu para nunca mais ser visto. Não por mim, pelo menos.
Mas tardou para a cidade o desprezar porque, nessa época, Mãe e Pai já estavam por aqui. Vieram escutar os ensinamentos da Vó e do Vô e fincar minhas raízes.
Vô deixou a casa bem grande. Sinto falta dessa movimentação. O assoalho ainda é o mesmo, com as ripas de madeira correndo de parede a parede. Menos na sala de estar. Lá o piso sempre foi de cimento queimado, chão de verdade, para o caso de recebermos visita — coisa que jamais aconteceu.
Pensando bem, a casa carregava o despropósito da cidade que se desenhava ao redor; tempo desalinhado. Realidade nova, crescente. Os móveis, ainda que vastos, não ocupavam a casa.
A mesa, grossa e larga, era acompanhada por dois bancos compridos: prontos para servir um bando inteiro, mas o guarda-louças não passava de um móvel estreito com poucas peças. Na cozinha, uma talha servia de filtro. Lembro da caneca de estanho, pesada, que a gente deixava para a água ficar fresca. Quase nunca bebíamos ali. Nossa água vinha das bicas. Da terra, não dos artefatos.
O forno, de cupim e reboco, era uma invenção complexa do Vô. Mas gostoso mesmo era colher os morangos silvestres que cresciam das frestas que pavimentavam os caminhos do quintal.
Vivíamos bem nessa ordem. Tio e os animais; Vô e os reparos; Mãe e Pai nos ensinamentos e heranças; a Vó e eu, o moinho & a cidade. Aos poucos, foram todos partindo.
Mãe passou pela Cerimônia da Andança, recebeu as sementes da Vó e partiu com o Pai em busca de outras terras para revolver. Tio se foi, atender outras necessidades. Vô deu-se por satisfeito.
— Quando o serviço acaba, a alma cansa — disse antes de entrar em uma das construções do quintal e desaparecer. Ficamos eu e a Vó. Presente e Passado. Milho e moinho. Terra e cidade.
***
Agora que se foi, entendo a preocupação com o moinho. Estamos todos no centro do moinho do moinho do moinho. Por isso, preciso recolher os grãos. Retomar os trabalhos.
Sinto um formigamento insistente nas extremidades. As coisas estão nos lugares errados: o cheiro do café coado se tornou azul. Os canários-da-terra e os caboclinhos desafinam e o pôr do sol está áspero como uma lixa. Sinais de que o fubá está no fim.
Os Homens Urubu também devem estar se coçando, a sarna dos carniceiros de realidade. Ouço o bater dos braços-asas. Vó me alertou: quando a realidade estiver no ponto crítico, eles vão descer e bater nas portas. As mãos penosas vão empurrar as portas e, puxa, me desculpe pelo momento, mas será que você não poderia dividir comigo esses pequenos tesouros, acho que você não vai mais precisar, não é? Veja que linda essa boneca de milho, e em menos de um segundo a boca se abre em um bico horrendo e engole aquele pedaço de história.
O bando fedorento vai se espalhar pela casa, revirando tudo com dedos imundos e garras grudentas, buscando qualquer fragmento de realidade que possam engolir. Transformam a vida em propriedade. As memórias em alimento.
Não se pode deixar um Homem Urubu entrar em casa. Nunca.
Mas o vazamento daquele musgo cinzento pelas frestas do assoalho me deixa sem escolha. Não tenho outra opção, além de confiar nos ensinamentos que Vó me transmitiu e na agilidade que ganhei por habitar tanto tempo esse corpo mirrado, infantil.
Me esgueiro por uma das janelas de casa e rastejo pelas pedras até o galpão onde Vô costumava guardar o pó do tempo nas coisas. Sinto sua presença como uma lufada repentina a me guiar pelo amontoado de tralhas escuras. Sinto a textura lisa do crânio daquele boi marruá; montes de palhas secas, restos de uma colheita antiga; pedaços de madeira; roupas do Pai e da Mãe, desnecessárias ou esquecidas; cordas e ferramentas há muito não usadas.
A boneca de palha tomou forma, moldada pelos meus dedos e memórias. Saí com aquele espantalho — meio Boi, meio Gente; meio Pai, meio Mãe — tremendo nos braços. O tempo me deu sabedoria, mas não criou força nos braços.
Ensaiei mentalmente a voz grave do Vô e as falas da Vó. Ergui o pedaço de pau e retumbei da melhor forma que pude:
— Voem, gralhas amaldiçoadas! Procurem outro espaço para agourar. Os guardiões ainda vivem e o milho viceja. Deixem nosso moinho em paz!
O crocitar choroso dos Homens Urubu cessou, parte por raiva, parte por surpresa. Mas entenderam o recado: não há carcaças.
***
Eu pego o milho. Retomo o ritual: da espiga para a cesta; da cesta para o moinho; da canaleta para o centro, que mói... mói... mói. Os grãos retomam sua jornada. No canto da sala, o musgo, em uma bola marrom, seca. O pó cinza se torna amarelo, como pólen, e voa pelos ares, restaurando tudo aquilo que faz dessa cidade, minha cidade.
Arthur Marchetto é jornalista, escritor e doutor em Comunicação Social. Publicou os contos "Arquivista" e "A Queda" na Faísca, da revista Mafagafo. Atualmente, escreve a newsletter Ponto Nemo, no Substack, e participa do podcast de literatura 30:MIN.
Edição: Luísa Montenegro
Revisão: Moacir Fio
Ilustração: Nathália Pimentel


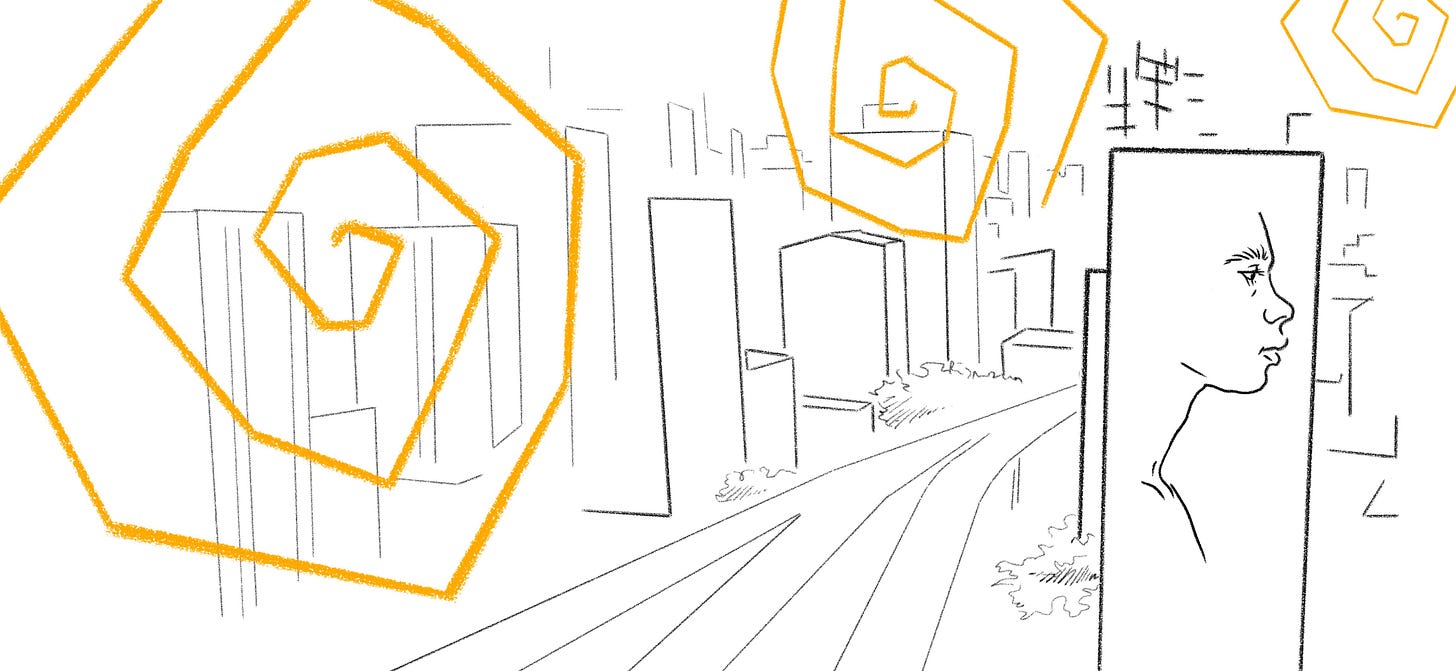

Valeu, pessoal!